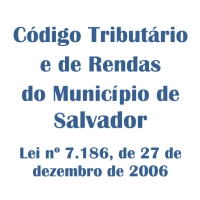O teto remuneratório no serviço público municipal: interpretação do §12 do art. 37 da Constituição da República.
O teto remuneratório no serviço público municipal: interpretação do § 12 do art. 37da Constituição da Republica.
Autor: Carlos Henrique Bezerra Coaracy [1]
Resumo: O presente artigo busca a melhor interpretação constitucional quanto ao estabelecimento de subteto remuneratório aplicável aos servidores públicos municipais, tendo em vista a EC nº 47/2005 que adicionou o § 12 ao art. 37da Constituição Federal no relevante regramento.
Palavras-chave: Teto remuneratório; Servidores Públicos; Município; Interpretação e Aplicação do § 12 do art. 37 da CF.
Sumário: 1. Introdução; 2. Da interpretação gramatical; 3. Princípio Federativo e isonomia entre os entes Federados (interpretação sistemática); 4. Isonomia entre as carreiras típicas de Estado (sistemática); 5. Finalidade da Norma (interpretação histórica e teleológica); 6. Considerações Finais.
1 – Introdução
Em atenção ao autogoverno dos entes federativos, a Emenda Constitucional 47/2005 permitiu a fixação de subteto salarial estadual, municipal ou distrital, desde que com edição de emendas às respectivas Constituições estaduais ou Leis Orgânicas ( CF, § 12, art. 37), assim, é facultado ao Estado-membro, município ou DF: (a) a definição de um teto por Poder; ou (b) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais e Vereadores.
Dessa forma, deve ser interpretada a norma, § 12 do art. 37 da Constituição Federal, de modo a se reconhecer o verdadeiro sentido e alcance da mesma, utilizando-se para tanto dos métodos interpretativos em conjunto: literal, sistemático, histórico, teleológico-axiológico e sociológico.
Nesse sentido, a autora Maria Helena Diniz, relata justamente a importância da hermenêutica jurídica, a qual menciona que:
“Interpretar é descobrir o sentido e o alcance da norma jurídica. Devido à ambigüidade do texto, imperfeição e falta de terminologia técnica, má redação, o aplicador do direito, a todo instante, está interpretando a norma, pesquisando seu verdadeiro significado. Interpretar é, portanto, explicar, esclarecer; dar o sentido do vocábulo, atitude ou comportamento; reproduzir, por outras palavras, um pensamento exteriorizado; mostrar o verdadeiro significado de uma expressão, assinalando, como o disse Enneccerus, o que é decisivo para a vida jurídica; extrair da norma tudo o que nela se contém, revelando seu sentido apropriado para a realidade e conducente a uma solução justa, sem conflitar com o direito positivo e com o meio social. (DINIZ, 2012, pag. 79). Grifamos.
Assim, a interpretação se torna essencial para identificarmos o verdadeiro conteúdo da lei que melhor represente os fins sociais da norma e às exigências do bem comum, ou seja, extrair da norma tudo o que nela contém e achar o sentido mais apropriado para uma solução justa, o que é decisivo na vida jurídica, e será mostrado.
2 – Da interpretação gramatical
Primeiramente, pode se afirmar que toda interpretação jurídica deve partir do texto da norma, da revelação do conteúdo semântico das palavras, constituindo-se na interpretação gramatical – também dita textual, literal, filológica, verbal, semântica –, que tem por finalidade a compreensão possível das palavras, servindo esse sentido como limite da própria interpretação. [2]
O direito romano preceitua verba cum effectu, sunt accipienda, ou seja, “não se presumem, na lei, palavras inúteis”, assim devem-se interpretar a norma de forma a compreender todas as palavras como tendo alguma eficácia. O interprete não pode, simplesmente desconsiderar uma palavra como não dita.
Nesse sentido, nenhum conteúdo da norma legal pode ser esquecido, ignorado ou tido como sem efeito, sem importância ou supérfluo. A lei não contém palavras inúteis. Só é adequada a interpretação que encontrar um significado útil e efetivo para cada expressão contida na norma. [3]
Assim deve-se compreender o § 12 do art. 37 da CF, quanto ao teto remuneratório, que é facultado aos entes federados, mediante emenda às respectivas Constituições ou Lei Orgânica, estabelecer subteto único em seu âmbito o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvando desse novo teto aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
Portanto, se não fosse assim, não haveria razão de incluir a expressão “e dos Vereadores” na ressalva do citado dispositivo constitucional. Excepcionaram-se literalmente os vereadores, porque é facultado a criação de subteto único também aos municípios.
3 – Princípio Federativo e isonomia entre os entes Federados (interpretação sistemática)
Uma norma constitucional vista isoladamente, pode fazer pouco sentido ou mesmo estar em contradição com outra. Não é possível compreender integralmente alguma coisa – seja um texto legal, uma história ou uma composição – sem entender suas partes, assim como não é possível entender as partes de alguma coisa sem a compreensão do todo. A visão estrutural, a perspectiva de todo o sistema, é vital [4], assim é de suma importância uma interpretação sistêmica do normativo onde inserido.
A forma de organização de nosso Estado é a federação, ou seja, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, e sua organização político-administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. (art. 1º, caput c/c art. 18 da CF).
Um dos aspectos inerentes à Federação brasileira reside na isonomia dos entes federativos, o que torna inadmissível o preconceito de que a União seria hierarquicamente superior aos demais entes. Lembre-se que a Constituição de 1988 veda “à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (…) III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si” (art. 19, III) [5].
Ademais, a forma federativa de Estado trata-se de norma essencial e princípio estruturante em nosso ordenamento jurídico que a Constituinte inclusive a estabeleceu como cláusula pétrea de modo a não permitir qualquer deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado (art. 60 § 4º da CF).
Portanto, o princípio do federalismo irradia seus efeitos na formação e interpretação de todo o ordenamento jurídico, seja quando trata de questões fiscais, das competências dos entes federados, nas questões orçamentárias, nas responsabilidades de cada ente federativo, etc.
Nesse sentido, o princípio federativo atua como princípio estruturante no momento em que representa uma diretriz hermenêutica dupla: pode-se voltar ora para os aplicadores do direito, e principalmente, da Constituição; ora para o legislador no curso da elaboração das leis. A busca pela sua manutenção é comando constitucional essencial, uma vez que a lógica federalista não contempla o direito de secessão de algum ente federativo (art. 1º da CR/88). Qualquer tentativa autoriza a intervenção federal no intuito de preservação da integridade nacional (art. 34, I, da CR/88). [6]
Desse modo, como parte de todo esse sistema, federativo, também deve ser interpretado o § 12 do art. 37 da CF, ou seja, quanto aos tetos e subtetos remuneratórios dos servidores públicos, o norma sob comento deve ser interpretada de modo a se observar a isonomia e autonomia dos entes federativos, assim, temos que os Estados, Municípios e o Distrito Federal, possuem autonomia para definir um subteto único, correspondente ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos deputados e vereadores.
4 – Isonomia entre as carreiras típicas de Estado (sistemático)
O Estado brasileiro tem por obrigação satisfazer os interesses públicos de seus cidadãos e nessa função lançará mão de trabalhadores denominados servidores públicos, dentre os quais existirão aqueles que exercerão funções estatais mais estratégicas, relacionadas à essência, ao âmago do Estado: os chamados ocupantes de cargos típicos de Estado para o exercício de atividades exclusivas de Estado. Esses servidores estão mencionados no art. 247 da Constituição Federal de 1988, da seguinte forma: “As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado”.
Apesar de não se ter lei específica regulamentando o referido dispositivo constitucional de modo a elencar os cargos efetivos que desenvolve atividades típicas de Estado, observa-se claramente que existem certos cargos públicos com previsão de suas atribuições e competências diretamente da Constituição Federal e de modo simétrico é organizado e estruturado em todos os entes federativos e relacionam-se com normas materialmente constitucionais que organizam a administração pública, os poderes do Estado, as atividades financeiras dos Estados, a fiscalização e instituição de tributos etc. Assim, como exemplos tranquilos desses cargos, que retiram suas atribuições e competências diretamente da Constituição, mas exercem atividades no âmbito de seu respectivo ente federativo podemos visualizar os procuradores, auditores fiscais e auditores de controle, este último fiscaliza a gestão e aplicação de recursos públicos federal, estadual ou municipal conforme o ente federativo a que se vincula.
Deve-se ressaltar que no exercício da hermenêutica normativa devemos sempre buscar a máxima efetividade dos princípios aplicáveis, no presente momento, vale destacar o princípio da isonomia para melhor extrair da norma contida no § 12 do art. 37da CF tudo o que nela contém e achar o sentido mais apropriado para uma solução justa.
O princípio da isonomia pode ser considerado como um instrumento regulador das normas, para que todos os destinatários de determinada lei recebam tratamento parificado.
Nesse sentido, a isonomia deve ser observada na estruturação dos cargos e carreiras no serviço público. O cargo público é um instrumento para a organização da estrutura da Administração Pública. O conjunto total de competências atribuídas a um ente estatal é partilhado entre os diversos cargos. Os cargos são agrupados e ordenados segundo a afinidade das competências e características das funções correspondentes. Isso permite a sistematização das atividades e das situações jurídicas dos agentes estatais. Assim, por exemplo, uma carreira consiste num conjunto de cargos com competências homogêneas [7].
Nesse rumo, a Constituição Federal preza por um equilíbrio, uma isonomia na fixação dos padrões de vencimento na administração pública, inclusive estabelece que a fixação dos padrões de vencimento na administração pública observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como outras peculiaridades que o cargo exija, assim temos art. 39, § 1º, incisos I, II e III da CF, in verbis:
“Art. 39. (…)
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.”
Assim, tais preceitos devem ser observados na sistematização das carreiras públicas típicas de Estado no âmbito da autonomia administrativa e financeira de cada ente federativo, que amparado pelo estabelecido no § 12 do art. 37 da CF pode estabelecer subteto único aos seus trabalhadores públicos, primando assim, pela isonomia de carreiras e cargos públicos com desempenho de funções idênticas, diferentes apenas os entes federativos a que vinculados.
Vale esclarecer que não se trata de pretender aumento de vencimento de carreiras típicas de Estado sob o argumento de isonomia, mas sim, de dar o mesmo regramento quanto à fixação do teto remuneratória para carreiras públicas com a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, respeitando sempre a autonomia administrativa e financeira de cada ente federado e que assim desejar.
Vale repisar que não se trata de equiparar salário de servidor com base no princípio da isonomia e conceder aumento salarial, mas sim, sujeitar servidores com idênticas funções e atribuições, de previsão constitucional, a mesmo regramento quanto à possibilidade de instituição de um subteto remuneratório, seja no âmbito estadual ou municipal, lembrando que a fixação da remuneração sempre ficará a cargo e de acordo com a realidade de cada ente federativo.
Não permitir ao município instituir subteto remuneratório às carreiras típicas de Estado em seu âmbito, da mesma forma como se faculta aos demais entes federados, afronta os preceitos constitucionais basilares da CF88 não apenas quanto ao princípio federativo, mas também, criando tratamento discriminatório no âmbito do sistema de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhado, o que viola o princípio da isonomia.
Dessa forma, como parte de todo esse arcabouço jurídico sistematizado e ancorado nos princípios da forma federativa de Estado e isonomia, também deve ser interpretado o § 12 do art. 37 da CF, de modo a facultar ao município, mediante Lei Orgânica, instituir subteto único ao seu funcionalismo público.
5 – Finalidade da Norma (interpretação histórica e teleológica)
Para se reconhecer o verdadeiro sentido e alcance da norma estabelecida no § 12 do art. 37da CF se faz importante uma interpretação histórica e teleológica da mesma.
A interpretação histórica consiste na busca do sentido da lei através dos precedentes legislativos, dos trabalhos preparatórios e da occasio legis. Esse esforço retrospectivo para revelar a vontade histórica do legislador pode incluir não só a revelação de suas intenções quando da edição da norma como também a especulação sobre qual seria a sua vontade se ele estivesse ciente dos fatos e idéias contemporâneos [8].
Já na interpretação teleológica, ou ratio legis, busca-se o fundamento racional da norma e redefine ao longo do tempo a finalidade nela contida. A ratio legis é uma “força vivente móvel” que anima a disposição e a acompanha em toda a sua vida e desenvolvimento, assim, devemos ter em mente que a Constituição e as leis sempre visam a acudir certas necessidades e devem ser interpretadas no sentido que melhor atenda à finalidade para a qual foram criadas. [9]
Nessa esteira, visualiza-se cristalino a finalidade do normativo inserido no § 12 do art. 37 da CF ao analisar-se a exposição de motivos da Emenda Constitucional nº 47de 2005 que a cria, litteratim:
“Permite-se que o Poder Executivo dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mediante lei de sua iniciativa, adotem como subteto o subsídio dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Essa alteração permitirá resolver o problema surgido em algumas unidades da Federação, nas quais o subsídio dos respectivos Governadores e Prefeitos é muito reduzido, ao mesmo tempo em que mantém a autonomia desses entes de tratarem o tema conforme a sua realidade exige.” (grifamos)
Portanto, verifica-se claramente que o normativo sob comento fora criado para aplicabilidade na realidade de Estados e Municípios e visa resolver o problema surgido em algumas unidades da Federação, nas quais o subsídio dos respectivos Governadores e Prefeitos é muito reduzido, ao mesmo tempo em que mantém a autonomia desses entes de tratarem o tema conforme a sua realidade exige.
Da leitura da motivação parlamentar, pode-se afirmar que a Emenda nº 47 corrigiu uma situação que feria frontalmente o princípio da isonomia, pois, no sistema anterior vigente da emenda nº 41, somente os membros do Ministério Público e os procuradores tinham seus tetos de remuneração limitados aos subsídios dos desembargadores dos Tribunais de Justiça – cargo não político. [10]
Assim com a referida Emenda Constitucional, permite-se que o ente federativo (Estado ou Município), mediante lei de sua respectiva iniciativa, adotem como subteto remuneratório subsídio não político, desvinculando-se de subsídio de governadores e prefeitos, assim, pretendeu-se acabar com prática odiosa de alguns Governadores ou Prefeitos de não ter aumento em seus subsídios apenas para achatar os vencimentos dos servidores.
Atualmente, a finalidade da norma para os Estados-membros e Municípios é a utilização do permissivo constitucional do § 12 (de criação de subteto único para o seu funcionalismo) para evitar a penalização dos servidores públicos, em virtude da volatilidade do humor dos agentes políticos – governadores e prefeitos. [11]
Como exemplos de que a vinculação do teto remuneratório dos servidores ao subsídio político de Governadores e Prefeitos reveste-se de caráter pernicioso, quebrando muitas vezes com a equidade, isonomia, justiça e vários princípios estruturantes do ordenamento jurídico, pode-se utilizar como exemplo o Município de São Luís, no qual o subsídio do prefeito é o mesmo há treze anos, desde 2009. E assim, inibe e congela a progressão de carreira de vários servidores públicos, cargos técnicos com atribuições retiradas diretamente da Constituição Federal. Criando-se uma verdadeira antinomia entre as carreiras típicas de estado e fulminando a equidade prevista no texto constitucional, art. 39, § 1º, incisos I, II e III da CF.
Os exemplos são muitos e constantes, basta uma rápida pesquisa na internet e encontramos várias situações perniciosas e semelhantes, como podemos visualizar dos vários julgados que entenderam pela inconstitucionalidade da redução do subsídio do prefeito na mesma legislatura [12], e como já aconteceu no Estado de Minas Gerais [13], onde o governador reduziu o próprio subsídio com a finalidade transversa e arbitrária de reduzir os gastos com pagamento de pessoal, ou seja, os governantes fazem uma má gestão dos recursos públicos, dificulta a vida financeira do ente federativo, e se utilizam de via oblíqua, arbitrária e imoral da redução de seus subsídios (dificilmente um agente político vive apenas de seu salário, inclusive muitos recebem verbas de representação) para reduzir os gastos com pessoal, contudo mantendo os gastos desarrazoados e desnecessários que se comprometeram tendo em vista interesses próprios e muitas vezes mesquinhos com aparência de públicos.
Assim o que muitas vezes acontece é a assunção de despesas pelo governante de forma desarrazoada, sem o correspondente lastro financeiro para subsidiar, e posteriormente, para equilibrar as contas públicas, como não pode legalmente reduzir o salário dos servidores públicos, utiliza-se de via oblíqua, imoral e ilegal que é reduzir ou congelar o próprio salário por anos à fio, impedindo as progressões e reajustes previstos em lei.
Desse modo, percebe-se o cenário de instabilidade jurídica que sujeita servidores públicos estaduais e municipais, servidores técnicos e profissionais vinculados e adstritos à administração pública para bem atender aos cidadãos, e que só fora corrigido com a inserção do § 12 do art. 37 da CF, com a Emenda Constitucional nº 47/2005.
Ante o exposto, em regra, a remuneração dos servidores municipais está adstrita ao subsídio dos prefeitos. Contudo, permite-se que o Poder Executivo dos Municípios (assim como os Estados e DF) mediante lei de sua iniciativa, adotem como subteto o subsídio dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Essa alteração permitirá resolver o problema surgido em algumas unidades da Federação, nas quais o subsídio dos respectivos Governadores e Prefeitos é muito reduzido, ao mesmo tempo em que mantém a autonomia desses entes de tratarem o tema conforme a sua realidade exige. Trata-se da ratio legis do § 12 do art. 37 da CF.
6 – Considerações Finais
Um direito justo e adequado é integrado tanto por princípios como por regras. A obtenção de um sistema jurídico justo depende de uma organização jurídica que contemple, de modo equilibrado, tanto princípios como regras. Essa organização jurídica reflete as instituições e o modo de ser de cada Nação. [14]
Portanto, para se conhecer o verdadeiro sentido e alcance da norma estabelecida no § 12 do art. 37 da Constituição Federalé essencial a utilização dos métodos interpretativos em conjunto: literal, sistemático, histórico, teleológico-axiológico e sociológico, e assim conseguiremos extrair da norma tudo o que nela contém e achar o sentido mais apropriado para uma solução justa, o que é decisivo na vida jurídica.
Partindo-se da literalidade do texto do normativo sob exame, não podemos ignorar a expressão “e dos Vereadores” na parte final do dispositivo sob comento, de modo a ficar claro que se excepcionaram literalmente os vereadores, porque é facultado a criação de subteto único também aos municípios. Ou seja, Estados e municípios possuem autonomia para fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvados os subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
A forma federativa de Estado consubstancia-se em princípio estruturante da República Federativa do Brasil, e impõe a isonomia entre os entes federativos, não havendo, pois hierarquia entre os eles, desse modo, pelo normativo sob exame fica evidente que os Estados, Municípios e o Distrito Federal, possuem autonomia para definir um subteto único, correspondente ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados e Vereadores.
O princípio da isonomia não apenas impõe isonomia entre os entes federativos, como também deve ser observada na estruturação dos cargos e carreiras no serviço público. Ou seja, a Constituição Federalpreza por um equilíbrio, uma isonomia na fixação dos padrões de vencimento na administração pública, e o § 12do art. 37 da CF permite ao município instituir subteto remuneratório único, preservando assim a isonomia e equidade às carreiras típicas de Estado em seu âmbito, da mesma forma como se faculta aos demais entes federados.
Vale esclarecer que não se trata de pretender aumento de vencimento de carreiras típicas de Estado sob o argumento de isonomia, mas sim, de dar o mesmo regramento quanto à fixação do teto remuneratória para carreiras públicas com a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, respeitando sempre a autonomia administrativa e financeira de cada ente federado e que assim desejar.
Quanto à finalidade da norma, a interpretação histórica e teleológica se complementam, se confudem e se harmonizam na mesma ratio legis. Isto é evidente desde a concepção e na exposição de motivos da Ec nº 47/2005 que a introdução do § 12 do art. 37 da Constituição Federal tem por finalidade permitir que o Poder Executivo dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mediante lei de sua iniciativa, adotem como subteto o subsídio dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Essa alteração permitirá resolver o problema surgido em algumas unidades da Federação, nas quais o subsídio dos respectivos Governadores e Prefeitos é muito reduzido, ao mesmo tempo em que mantém a autonomia desses entes de tratarem o tema conforme a sua realidade exige. [15]
Ante o exposto, evidencia-se que todos os métodos interpretativos, em conjunto, e primando-se pela máxima efetividade dos princípios constitucionais nos revelam o verdadeiro conteúdo do § 12 do art. 37 da Constituição Federale que melhor representa os fins sociais da norma e às exigências do bem comum, que não é outro, senão o de permitir que o Poder Executivo dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mediante lei de sua iniciativa, adotem como subteto o subsídio dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, ressalvados apenas desse permissivo, os subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
O bom direito é o que se põe em prática. Pouco ou nada valeria uma Constituição cuja existência servisse apenas ao debate de estudiosos e doutrinadores. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais trabalham para que o texto constitucional vá além da teoria e não falte à sociedade o direito do cotidiano. Isso acontece quando é dada concretude plena aos direitos e às garantias fundamentais [16]. Assim, espero que o presente artigo sirva de pequena contribuição no melhor entendimento do direito.
Fonte: JusBrasil